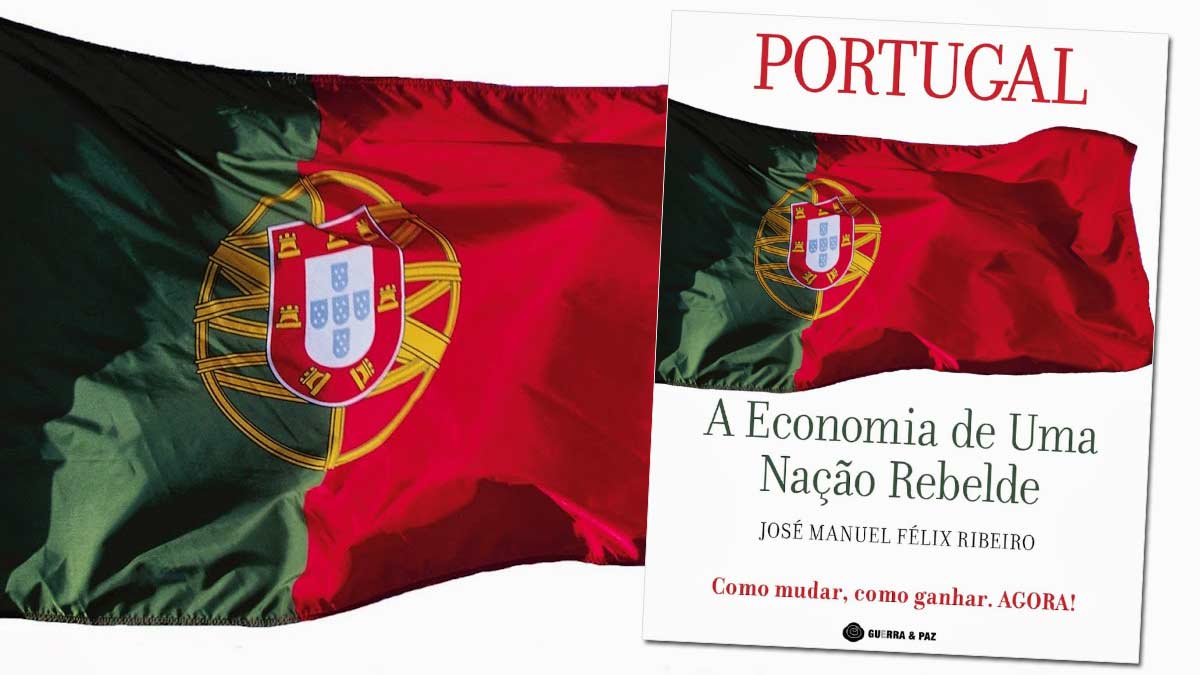José Manuel Félix Ribeiro, em “Portugal – A Economia de Uma Nação Rebelde”, faz diagnósticos, aponta soluções. “Não temos de ser um protectorado germânico nem uma feitoria chinesa”.
Os grandes eixos do seu discurso não são a dívida ou a despesa. São o crescimento ou essa palavra (entre nós) perdida que se chama estratégia. Há meia-dúzia de anos, Félix Ribeiro deu uma entrevista a Anabela Mota Ribeiro, para o Jornal de Negócios, que aqui se regista (parte). Porque vale bem a pena a sua revisitação. Porque é histórica. E, sobretudo, porque continua actual.
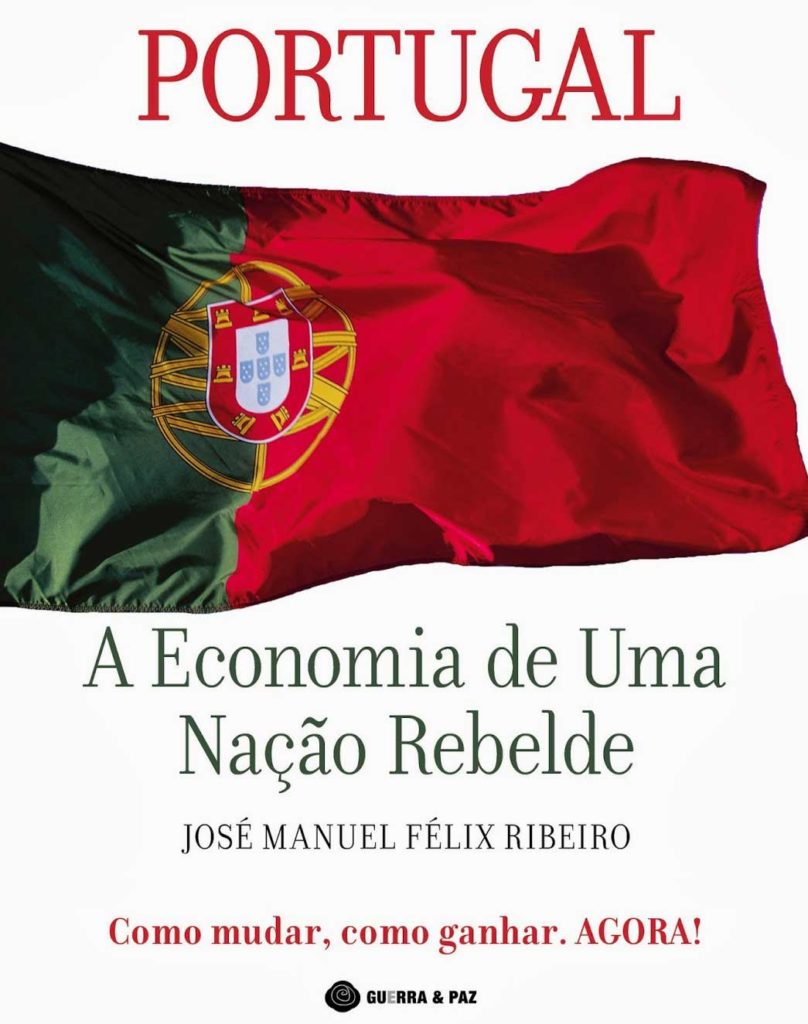
O título do seu livro, “Portugal – A Economia de Uma Nação Rebelde”, aponta para uma natureza que não se deixa domar. Estuda as razões porque não crescemos, porque somos um país endividado. Porque é que não nos deixamos domar?
Não sei. O que sei é que ao longo da história surpreendemos em vários momentos pela solução que encontramos para as nossas desgraças. O que tentei com este livro foi dizer que Portugal está numa daquelas alturas em que tem que mostrar o que vale. Para isso, só se pode inspirar nos momentos em que foi rebelde.
Rebelde?
Rebeldia é uma expressão pouco usada. As pessoas são normalmente revoltadas ou descontentes. Ser rebelde supõe auto-estima. As circunstâncias são tão asfixiantes que temos que virar a mesa.
Para virar a mesa, é preciso saber porque estamos nesta situação? Compreender para mudar.
Sim, e compreender como é que o mundo está a evoluir. Entre que pingos da chuva podemos navegar.
Não é o famoso desenrascanço português.
Não, não. É uma inteligência estratégica.
Escreve que é preciso repensar o que foi fundador nestes 40 anos de democracia. Se respondemos bem em determinados momentos, isso é uma reacção, não é uma estratégia.
Acho que tivemos uma estratégia muito clara e bem concebida quando perdemos o império, derrubámos um regime e nacionalizámos uma economia – não tendo estado numa guerra civil.
Está a falar dos três D’s.
Sim. E tivemos três pilares. A Europa (o local de acolhimento que deu uma garantia de que a democracia era protegida pelo exterior)…
… a que aspirávamos pertencer.
Sim. Estes 40 anos têm uma matriz pró-europeia enorme. Segundo pilar: o Estado Social, que é uma ideia do prof. Marcello Caetano. Num regime e noutro traduz uma necessidade de encontrar uma legitimidade popular.
Seria possível a implementação de um Estado Social num regime não-democrático, com Marcello?
Sim. O seu foi um período de crescimento económico, o que lhe deu folga. O único grande problema era a guerra de África. Terceiro pilar: o municipalismo. Éramos um país de emigração, que praticamente parou, e recebemos 800 mil pessoas, que se integraram, espalhando-se pelo país. O municipalismo, pelas oportunidades que deu, foi fundamental. A reabsorção de uma parte das pessoas que vieram das colónias foi feita no Estado.
Não foi notável que em menos de um ano tenhamos recebido tantas pessoas, sem convulsões sociais?
Foi. Fizemos uma transição formidável.
O seu ponto: foi também para responder à chegada massiva de retornados……
que começou a aumentar o Estado. O Estado na autarquia e na administração central. Para lhes dar resposta na educação, na saúde e no emprego. tivemos uma estratégia. Ao longo do percurso europeu tivemos também uma estratégia, que foi estar no núcleo duro do processo de integração europeia.
Pertencer a uma Europa dos primeiros. Não ser um parente pobre.
É. Na opinião das pessoas, se não tivéssemos feito essa aposta de estar desde o princípio no centro, seríamos uma periferia maior. Espanha teria sempre uma ambição de estar no centro. Espanha é um dos grandes problemas da história portuguesa. Somos o único país da Europa que tem um único vizinho. E o vizinho é quatro vezes maior do que nós. Tem pujança, ambição, coisa que nos falta às vezes. Alinhar com esse vizinho, sem o império, constituiu um desafio importante.
Mencionou as nacionalizações. Como foi feita a gestão desse dossier?
Constituíram uma coisa relativamente lateral. Corresponderam a…
… a uma deriva socialista, pura e dura?
Sim.
Tem noção que quando diz isso a direita fica exultante e a esquerda condena o seu discurso?
Sei. Um dos trabalhos que mais gostei de fazer, em 72/73, feito com a minha primeira mulher, que já faleceu, e um colega, chamava-se “Grande Indústria, Banca e Grupos Financeiros, 1953-73 – História da Economia Portuguesa”. Deu-me a percepção de que os grupos económicos no período do Marcello Caetano estavam a fazer uma alteração substancial da maneira de pensar a sua actuação. O Estado já não os podia ajudar tanto, e descobrem que têm de fazer coisas para o exterior. O grupo que lidera isso é o grupo CUF. Champalimaud também tentou. Com Rogério Martins e Marcello houve uma liberalização e uma vaga de investimentos enorme. Esse período (1967-73) é o de um capitalismo – dos grupos – que criava esperança. Foi tudo decapitado.
Como não podia deixar de ser?
Acho que não. Não era obrigatório. Até achei que as nacionalizações podiam ser necessárias. Mas depois escrevi: “As pessoas que quiseram as nacionalizações foram conquistar castelos vazios. O que lá estava já não era capital. Era dívida”.
Porquê?
Porque todos estes grupos estavam a embarcar em grandes projectos. Isto tem uma consequência: expressa um convívio muito mau da população com os ricos. Coisa péssima. Os ricos são muito úteis.
Repito a pergunta: como não podia deixar de ser? Não era inevitável num país tão desigual a convivência difícil entre ricos e pobres?
Não há pobres por haver ricos. Em todas as economias baseadas no controlo sobre a terra, a pobreza é o oposto da riqueza. No capitalismo (que se liberta da terra) a possibilidade de ascender ao capital e à riqueza é muito maior. O que vemos depois do 25 de Abril é que a riqueza se democratiza em torno da terra. Do imobiliário, da corrupção à volta da terra. Mas estes ricos não são muito úteis.Tivemos três motores a funcionar: um a exportar, outro a investir e outro a aumentar o consumo por causa das remessas dos emigrantes.
Qual é o nosso motor neste momento?
Não temos nenhum. Aquele período era um período de ouro se esquecêssemos o quadro político em que ele se enquadrava. A máquina funcionava. Isto terminou sobretudo com a crise do petróleo de 73 (levou tudo uma machadada quando estava a construir-se). Estou a querer dizer que hoje estamos num período deste tipo.
Semelhante ao de 73?
Sim. Aquilo que foi possível fazer num período de 35 anos, chegou ao fim. Temos que nos reinventar.
Queria ainda falar dos ricos. Qual é o problema dos ricos portugueses? Não têm capital suficiente? São ricos sobre-endividados? São ricos dependentes do Estado?
No final do Antigo Regime alguns dos ricos estavam a fazer uma mudança enorme de agulha. Falo sobretudo do José Manuel de Mello. Estavam pela primeira vez a viver sem o Estado. Apoiados pelo Estado mas a fazer coisas para fora, aliados a suecos, americanos. Estavam num processo de aprendizagem que era bom. O que é que veio a seguir?
Saíram no pós-revolução. A maior parte para o Brasil.
Quando voltaram tiveram de comprar aquilo que era deles. Endividaram-se no exterior para comprar. O que nós tivemos foi uma multidão de novos ricos. Uma multidão de novos ricos!
Com outra expressão. Pequenos, pequenos novos ricos.
Sim. Um rico útil é um rico capaz de telefonar para o Rockefeller e dizer: “Preciso disto”. Um rico útil é um rico que pertence à elite mundial ou europeia, que tem contactos com ela e que é capaz de fazer projectos com ela.
Quem são esses ricos em Portugal?
Hoje? Houve uma degradação… E democratizámos a riqueza a um nível baixo, formando um bloco: os bancos, as câmaras, os promotores imobiliários, os construtores civis, as obras públicas.
Quando está a falar de multidão de ricos está a falar de quem? Que tipo de vida têm esses?
Pessoas que passaram a ter um nível de vida muito melhor. Acumulam património, mas não acumulam capital. Não reinvestem.
Ler entrevista completa:
José Manuel Félix Ribeiro
Exclusivo Tornado / IntelNomics