No passado dia 4 de Novembro tive ocasião de apresentar, em Lisboa, no Hotel Sana, o novo livro de José Sócrates, “O mal que deploramos. O drone, o terror e os assassinatos-alvo” (Porto, Sextante, 2017, pp. 200).
Uma obra interessante – que se segue a “O Dom Profano. Considerações sobre o Carisma”, de 2016 -, não só por tratar de um tema que tem estado muito ausente do debate em Portugal, mas também porque centra, com forte argumentação analítica, a questão do uso intenso da tecnologia de guerra – neste caso, o drone – na resolução do problema do terrorismo internacional e do seu enquadramento no direito internacional e no direito penal. Uma questão fortemente controversa, mesmo nos Estados Unidos, e que o autor oportunamente traz ao debate.
Tecnologia e sociedade
1. Bem sei que este é um tema antigo, diria mesmo clássico. Até um sofisticado intelectual marxista russo, próximo de Lénine, Nikolai Bukárine, já o tinha enfrentado e assumido, no seu famoso “Manual Popular de Sociologia Marxista”, no início dos anos vinte do século passado, tendo por isso sido criticado por um outro famoso marxista chamado Georg Lukács. Na verdade, a tecnologia, por mais avançada que seja e por mais inteligência (artificial) que incorpore, poderá, algum dia, ser assumida como solução (relativamente) autónoma para a resolução de problemas políticos, subalternizando a intervenção da vontade humana? Até que ponto o automatismo tecnológico pode ir na condução dos destinos das sociedades humanas?
Claro, o tema passa a ser objecto de reflexão cada vez mais complexa à medida que a revolução tecnológica vai avançando, à medida que a inteligência artificial vai sendo incorporada na tecnologia, sobretudo depois da revolução informática e digital. E hoje já avançou tanto que até ameaça colonizar as nossas vidas e determinar grande parte dos processos sociais: da robótica industrial às transações financeiras internacionais, ao sistema comunicacional, hoje todo em processo de migração para o interior da rede, à inteligência artificial, cada vez mais avançada e a aproximar-se daquilo que o Stanley Kubrik nos sugeriu em “2002 Odisseia no Espaço”, com o Super Computador Hal 9000 a experimentar, em fim de vida, emoções humanas, demasiado humanas. Sim, tudo isto e muito mais se começarmos a analisar a interferência e o poder que as modernas tecnologias estão já a exercer sobre cada um de nós… até à captura e à determinação dos comportamentos individuais (veja, a este respeito, o meu Ensaio: Santos, J. A., 2015, “Política, sociedade e tecnologias da informação”).
A questão em debate
2. E é aqui que se inscreve este produto tecnológico que dá pelo nome de Drone, zangão, pelo som que emite, veículo sem piloto, robot aéreo. Trata-se, portanto, de alta tecnologia que vem introduzir mudanças determinantes na gramática da guerra, para usar o conceito de Clausewitz, provocando uma profunda disrupção no próprio conceito. Em palavras mais simples: os drones são usados pelos Estados Unidos desde 2001, num enquadramento de guerra ao terror (conflito armado dos Estados Unidos com a Al-Qaeda), com autorização indeterminada do Congresso, mas também em territórios que não têm estatuto de teatro de guerra, não constituem antagonista militar nem ameaça directa e iminente de uso da força conta os USA. Os drones são aqui usados exclusivamente como instrumentos de execução no interior de Estados soberanos aos quais não foi declarada guerra, como executores extrajudiciais de supostos suspeitos, numa dupla falha relativamente ao que preceitua quer o direito internacional quer o direito penal. Se aquele território não está em guerra, não lhe é aplicável o direito da guerra, ou seja, a própria autorização do Congresso; e, se assim for, o castigo do suspeito só pode ser executado no quadro de um processo judicial justo e com garantias, não como pura e simples execução extrajudicial.
Esta parece ser a grande questão em debate neste livro: a ilicitude da intervenção dos drones como tem vindo a ser feita em países como o Iémen, a Somália, Líbia, Síria ou o Paquistão, ou seja, a condução de uma guerra sem teatro de guerra, tornada possível pela existência de drones.
3. Mas o livro não é só isto, uma reflexão sobre a grande questão de fundo. Ele analisa também o meio enquanto tal, as suas características, o que o distingue dos seus antecessores tecnológicos, que guerra é a sua relativamente à guerra convencional, como actua e em que condições e que consequências traz para a gramática da guerra e para a política. Em poucas palavras, o drone funciona, afinal, como um “deus absconditus” e, em última análise, os seus algoritmos já são tão avançados que podem efectuar a selecção dos alvos com base em comportamentos-padrão, considerados desviantes e, naturalmente, fora dos teatros de guerra. Nisto consistiriam os chamados “ataques de assinatura” (pp. 72-73). Trata-se, pois, de uma arma “limpa” que não gera custos para os decisores políticos e que até pode, por isso, ser entregue à esfera militar, desde que se mantenha a deliberação do congresso que autoriza o Presidente ao uso da força militar contra suspeitos de atentarem contra a segurança dos Estados Unidos. Uma arma, pois, que altera a natureza da guerra nas suas variáveis fundamentais porque altera o conceito de teatro de guerra e subtrai ao confronto um dos contendores, anulando a necessária reciprocidade (igualdade dos contendores), característica matricial da lógica da guerra.
Guerra e videogame
4. A obra, naturalmente crítica relativamente a este uso indevido, ilegal e ilegítimo dos drones, evolui, depois, para uma outra questão de fundo, ou seja, para a questão de saber se esta é uma arma estratégica eficaz para ganhar a guerra. E conclui que não, porque as suas características, o modo como intervém sobre os territórios e sobre as populações infunde terror e comete erros grosseiros fazendo vítimas naqueles que muitas vezes até estão do lado contrário ao dos suspeitos. Mas há uma outra consequência igualmente gravosa do lado do utilizador dos drones: a alienação de responsabilidades dos decisores políticos neste guerra silenciosa, “limpa” e meramente tecnológica como se se tratasse simplesmente de um videojogo, ao ponto de gerar aquilo que o autor designa por “guerra unmanned” – e, por extensão, “democracia unmanned” -, sem piloto, onde a tecnologia e a tecnocracia emergem como assépticas funções e lideranças no governo das sociedades.
5. Também o próprio conceito de guerra é posto em questão, tal como o direito da guerra ou o próprio direito internacional. É como se o próprio conceito desaparecesse dando lugar a uma teoria dos jogos em grande escala, onde a tecnologia ganharia uma relevância nunca antes vista, designadamente em relação à política. Sabemos como sempre foram importantes os avanços tecnológicos na guerra, da espada às armas de fogo, aos canhões, aos tanques, à aviação, aos mísseis, às bombas atómicas… e agora aos sofisticados, invisíveis e letais drones. A questão que se põe é se esta nova mudança não constitui uma ruptura, um salto qualitativo em relação aos meios tradicionais, a um ponto tal que possa produzir uma mudança de paradigma na forma de conceber e de conduzir a guerra.
6. Este é, pois, um ensaio sobre o drone e as consequências da sua assunção pelos Estados Unidos como a arma para onde converge a guerra ao terror, chegando mesmo, pelo seu domínio excessivo, a condicionar o próprio conceito de guerra e a relação desta com a política. Já não lhe bastava ter a sua própria gramática. Agora passou a ter uma sua própria lógica, que o própio Clausewitz, no Livro VIII, não lhe reconhecia (“a guerra é a continuação da política por outros meios”).
O mal que deploramos!
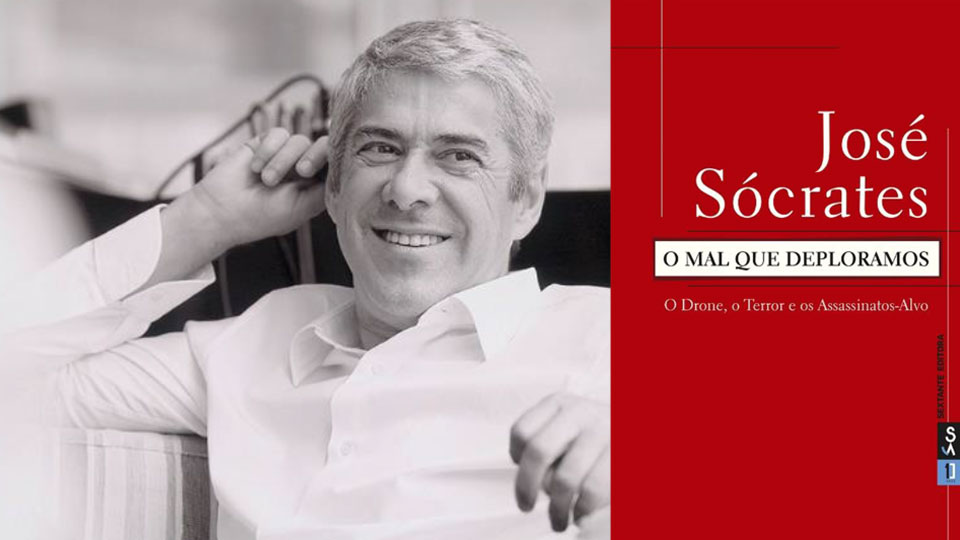
7. Vejamos tudo mais de perto
7.1. Começo pelo nome: “O mal que deploramos”. E lembro que essa foi a frase de uma congressista americana, a única que votou contra, no fatídico ano de 2001, na votação do Congresso americano sobre a “autorização para o uso da força militar” pelo Presidente dos USA. O receio da congressista Barbara Lee era o de se tornarem iguais àqueles que, em nome da justiça, queriam combater: agentes do terror. Combater o terror com o terror, ferindo de morte os valores universais e a própria matriz liberal da democracia com que as sociedades livres se conduzem. Os atentados terroristas – e a referência é sempre o 11 de Setembro e o ataque às Torres Gémeas -, execrados unanimemente por todos nós, surgem agora reproduzidos especularmente, como resposta, por nós próprios, já convertidos naquilo que mais deploramos enquanto vítimas e enquanto cidadania portadora de valores universais. Esta é a questão ética que, assumidamente, atravessa todo o ensaio. Daí o título.
7.2. Depois os USA. Este ensaio centra-se no país que está na vanguarda da utilização dos drones como tecnologia de guerra e de combate ao terror. Está, pois, aqui, em análise a política de combate mundial ao terror pelos Estados Unidos. E por várias razões: porque é o país que mais usa e mais dispõe desta tecnologia avançada; porque foi ele que sofreu o mais espectacular ataque terrorista de que há memória (mais de três mil mortos civis na destruição das Torres Gémeas); e porque passou a ter, sobretudo após 1989, uma vocação tendencialmente imperial. Da conjugação destas três razões resultou uma política internacional de intervenção armada que vai de países em situação de conflito armado internacional, como o Afeganistão e o Iraque, a países fora do teatro de guerra, como o Paquistão, o Iémen, a Somália, a Líbia e a Síria. Ou seja, a autorização passou a ser aplicada indiferenciadamente em qualquer país onde forem detetados inimigos a abater porque suspeitos de terrorismo, agindo ora numa lógica de guerra, nos países onde se verifique um teatro de guerra (Afeganistão ou Iraque), ora numa lógica de polícia sem fronteiras, polícia do mundo, onde a guerra não esteja declarada, como os que acima referi.
O drone e o teatro da guerra
7.3. E é aqui que surge um outro aspecto nuclear debatido no ensaio, com uma clareza meridiana e na qual se centra a proposta final do livro: “permitir o uso de drones só no contexto de um conflito armado”, porque, de acordo com o autor, (a) só este pode estar ancorado na lei internacional; (b) não seriam necessárias novas leis de enquadramento; e (c) acabaria com a intervenção de drones em países em paz (p. 166).
Mas o que é que tem vindo a acontecer? Intervenções armadas (assassinatos-alvo) fora do teatro de guerra, mas accionadas a partir de uma normativa prevista, em 2001, para a guerra ao terror, ou seja, com um enquadramento que autoriza o Presidente a intervenção armada fora das fronteiras dos USA, incluindo dentro das fronteiras em países fora do teatro de guerra. Ora o que acontece é que estas intervenções armadas – e são muitas e em vários países –, não podendo ser desencadeadas ao abrigo da lei da guerra, porque ela não existe com esses países, convertem-se em execuções extrajudiciais, realizadas, pois, ao arrepio da lei penal e dos mecanismos judiciais de garantia, numa dupla metamorfose: o soldado torna-se polícia e o polícia torna-se carrasco. Tudo à margem da lei e sem que estejam garantidos os pressupostos para a propalada intervenção em legítima defesa, ou seja, sem que haja perigo de ataque iminente e alternativa para lhe escapar.
O livro é muito insistente neste ponto porque as tentativas de legitimação de intervenção armada através dos drones têm vindo a ser feitas em nome da chamada legítima defesa, numa perfeita desadequação entre este conceito e as circunstâncias daquele tipo de intervenção. De facto, a intervenção armada, hoje, segundo a Carta das Nações Unidas, só já é permitida como legítima defesa (art. 51.º) e em circunstâncias muito bem definidas como mandato da ONU (art. 2.º, n.º 5). O que parece não estar a acontecer com as frequentes intervenções armadas dos drones designadamente em territórios fora do teatro de guerra.
O meio e a identidade moral do utilizador
7.4. Um outro aspecto muito interessante que este ensaio de José Sócrates nos traz é a reflexão acerca das características do meio, ou seja, do drone e do seu lugar no interior de uma gramática da guerra. O que este meio acrescenta, pois, em termos de estado da arte. Falamos, é claro, da guerra aérea e da noção de espaço, sendo certo que o drone se revela como uma tecnologia dotada de características tão especiais que acaba por condicionar a própria gramática ou mesmo a lógica da guerra, que já é do foro da política. O autor chega mesmo a dizer que
o facto de centrar esta reflexão sobre a guerra contra o terror na arma drone e nos assassinatos-alvo resulta de estar convencido de que foram as suas propriedades específicas que estiveram no centro da conceção e da condução da estratégia da guerra e que são elas que levantam os mais sérios e novos desafios éticos e jurídicos e estratégicos no debate sobre a guerra” (p. 187).
Poderia mesmo dizer, reforçando o pensamento do autor: – diz-me que armas usas e dir-te-ei quem és. Ou mesmo, glosando um ditado popular português bem eficaz: – se queres conhecer o vilão põe-lhe um drone na mão! José Sócrates, em defesa desta ideia de que o meio também tem poder constituinte sobre a identidade de quem o usa, chega mesmo a citar Sartre (“a existência precede a essência”) e Gramsci para mostrar o poder dos nossos actos e dos nossos meios sobre a construção da nossa própria identidade. E de facto, António Gramsci dizia, nos “Quaderni del Carcere”, que “l’uomo è ciò che diventa”, o homem é aquilo em que se torna, é fruto dos seus actos. Transpondo para o drone, poderíamos dizer que o seu uso como arma letal, que serve para “vigiar e punir”, não pode deixar de ter consequências morais constituintes sobre quem o usa, sobre a sua própria identidade moral.
As características do drone
7.5. Pois bem, as características do drone – o protagonista da guerra wireless – conferem-lhe, para glosar o que o Marx do I livro de “O capital” dizia da mercadoria, quase a natureza de um fetiche dotado de autonomia própria e de poderes quase mágicos:
(a). mata à distância; (b). altera a relação do comando com a arma e com o teatro de operações, tornando-se invisível; (c). é dotado de uma enorme precisão; (d). actua em sentido vertical, de cima para baixo; (e). é rápido, silencioso e inesperado; (f). espia, vigia e pune, ou seja, mata; (g). gera uma relação especial do soldado que pilota o drone com o teatro de operações equivalente ao dos videojogos, criando, por isso, a percepção de uma relação artificial com a vítima; (h). a sua acção não produz danos do lado do atacante; (i). Implica (relativamente) poucos recursos; (j). opera em segredo, sendo as suas acções cirúrgicas.
Estas características fazem do drone um meio capaz de interferir não só na gramática da guerra como na lógica da guerra e, consequentemente, na política. Um simples exemplo: não havendo baixas nos militares, mobilizando recursos financeiros moderados (relativamente às intervenções convencionais) e actuando num elevado nível de segredo e de invisibilidade, o seu impacto sobre a gestão política (e a opinião pública) parece ser relativamente diminuto e, por isso, a tendência pode vir a ser a de uma progressiva autonomia do processo e, consequentemente, a de uma sua desancoragem dos processos de legitimação, quer seja no plano formal quer seja no plano deliberativo mais geral. Ou seja, tende a verificar-se uma evolução para uma guerra de tipo autogenerativo, uma guerra sem sujeito, com a sua gramática, mas sem lógica, ou seja, sem política (aparente). Verifica-se, pois, a passagem de uma lógica de guerra para uma lógica de polícia e, mais globalmente, a passagem de uma unmanned war para uma unmanned democracy. Agiganta-se, pois, a tecnocracia, e definha a política – parece-me ser a conclusão do autor. Uma tendência que, infelizmente, se está a verificar em todas as frentes da política. Governam os que “sabem da poda”, os assépticos especialistas, os tecnocratas e, finalmente, a tecnologia, agora já dotada de inteligência artificial. O povo só já subsiste como entidade puramente referencial e como súbdito.
O que é, afinal, o drone?

7.6. José Sócrates preocupa-se em descrever o processo de gestação do drone e o seu enquadramento na história da tecnologia da guerra, ao procurar explicar em que é que consiste esta espécie de mudança de paradigma. O drone começa como alvo a abater, como instrumento de treino, depois evolui para meio de reconhecimento e de vigilância e, finalmente, para arma letal – tal é a história do drone (pp. 43-51). E, nesta história, a evolução foi tal que se deu um salto qualitativo de modo a que a última fase veio alterar a própria gramática da guerra, introduzindo uma tal autonomia que a gramática se converteu em discurso com sujeito próprio, agora já liberto do problema da legitimidade e, em última instância, do próprio controlo da guerra pelo povo, doravante liberto dos problemas morais e jurídicos, do problema da exposição pública no uso dos recursos e dos mortos em combate. De facto, referindo-se a Barack Obama, de quem se diz confesso admirador, diz o autor que foram os delicados problemas derivados de Guantánamo e de Abu Ghraib que levaram o Presidente americano a apostar numa estratégia de combate politicamente mais segura, menos problemática e polémica, porque invisível, precisamente a do combate ao terror através dos drones (71-72), abundantemente utilizada durante o seu mandato, para espanto de muitos. “Matar em vez de capturar” (p. 15), com esse temível instrumento que tem inscrito no seu ADN somente a primeira hipótese. Na verdade, Obama, cito, “autorizou quatro vezes mais ataques de drones que o seu antecessor” (p.14). O que lhe custaria um apelido pouco amigável: “covert commander in chief”, na “Drone war”. Mas a verdade é que se desapareceram os problemas morais e jurídicos ligados à prática da tortura, apareceram os novos problemas ligados ao uso do drone.
7.7. Mas a sua evolução mais próxima como arma, deu-se em 1999, na guerra do Kosovo, quando – depois de terem tido funções de informação, vigilância e reconhecimento – um Predator serviu para filmar e iluminar os alvos para o ataque dos F16, numa experiência de ataque cirúrgico sem baixas, espectacular e já muito parecido com um videogame. O passo decisivo seria dado em 2001: “um alvo que se transformou em olho e um olho que se transformou em arma”. Letal.
Uma arma vitoriosa?
7.8. Uma outra questão debatida em muitas páginas do livro é a da eficácia do uso dos drones como arma vitoriosa. A conclusão do autor é negativa. O drone altera a natureza da guerra, fere as normas do direito internacional, as do direito penal e tende a subtrair-se ao controlo da deliberação pública, evoluindo de uma lógica de política para uma lógica de polícia. Como se demonstra no livro através de testemunhos, sendo um instrumento de intervenção militar cirúrgica, não tem preocupações de envolvimento e de integração das populações em contexto considerado insureccional, gerando, pelo contrário, sentimentos de ódio derivados da atmosfera de terror a que está associada a sua intervenção no terreno. E não é só aquele concreto zumbido aterrorizador de um objecto invisível e letal que as vítimas e os que estão no seu espaço-alvo ouvem; é sobretudo o agudo sentimento de insegurança generalizado – sob a forma de terror infundido pela surpresa, a imprevisibilidade, a invisibilidade e esse zumbido mortífero – que o drone infunde nas populações, ainda por cima exibindo taxas significativas de danos colaterais. Isto, associado a injunções ilegais e ilegítimas, agrava nas populações sentimentos de rejeição maiores do que os que existiam antes dos ataques. O autor refere outras experiências equivalentes – inglesa e francesa – que resultaram desastrosas para estes países. E a verdade é que o retorno desta violência tem vindo a aumentar exponencialmente na nossa própria casa, na Europa e na América. Acresce ainda, segundo o autor, que os assassinatos-alvo dos dirigentes políticos do terror retiram sempre de cena protagonistas com peso político específico e com quem, numa diplomacia da negociação, acabariam por vir a negociar soluções de paz, sendo incerto o peso político dos que lhes sucederão, mas sobretudo sendo também certo que a liturgia da vítima faz sempre mais devotos do que os que existiam antes do sacrifício. De resto, as estatísticas sobre as soluções deste tipo de conflitos têm claramente dado conta do predomínio esmagador da via diplomática e de negociação relativamente à via armada.
Conclusão
8. O livro mantém-se, com coerência, numa perspectiva crítica relativamente à guerra determinada pelo uso indiscriminado deste terrível meio letal, sem pretender ir muito mais além (até pelas dimensões do ensaio, pela delimitação rigorosa do tema que o autor faz e pela coerência discursiva do seu fio condutor), mas sempre se poderia perguntar ao autor qual é, afinal, a sua solução, para a resolução do problema do terrorismo seja ele de Estado seja ele insureccional. Este aspecto não é tratado explicitamente no livro, embora se possa claramente deduzir do discurso que a solução deverá ser política e diplomática e não militar e, muito menos, perseguida através de um terror especular que só diminui quem, ao longo de séculos, conquistou patamares civilizacionais que, sim, viram cair tantas vítimas pelo caminho, mas que felizmente resultaram em progresso civilizacional e em conquista de direitos e de valores que hoje já constituem um sólido património mundial.
9. Outra questão que não é aflorada é a da caracterização do outro lado da guerra. De certo modo, falando o autor de guerra assimétrica, a propósito de uma guerra que acabou por subtrair um dos contendores ao embate no teatro de guerra, eu poderia devolver-lhe o conceito dizendo-lhe que o seu também é um discurso de certo modo assimétrico porque se limita a pôr em crise uma das partes, sem fustigar explicitamente e de modo ainda mais cortante a barbárie intolerável que alimenta a estratégia do outro lado do conflito. Bem sei que há uma posição ética e política implícita na crítica ao uso letal do drone fora do teatro de guerra e que todo o discurso tem como pressupostos os valores que estão consagrados nas grandes cartas de princípios que a humanidade assumiu e nos valores que estão inscritos quer no direito internacional quer no direito da guerra. E que, por isso, o mesmo crivo crítico que se aplica a este uso dos drones vale também para quem atropela ainda mais profundamente estes mesmos valores. E, assim, também seria útil, numa reflexão como esta, pôr em debate crítico e analítico essa outra mundividência que alimenta agressivamente um pretenso choque civilizacional radical com a mesma vocação aniquiladora que se exprime na gramática pura da guerra. Naturalmente, não como discurso desculpabilizador, do lado de cá, mas simplesmente como discurso analítico e clarificador, do lado de lá, havendo sem dúvida muito a dizer.
De qualquer modo, trata-se de um excelente ensaio, claro na exposição e nas posições que defende e muito interessante e útil por ter trazido à agenda pública este tão relevante, preocupante e actual tema de debate político. Infelizmente, as questões da paz e da guerra, neste plano, têm ocupado pouco espaço no debate público que vem ocorrendo entre nós e, por isso, este livro cumpre uma útil função, sendo muito bem-vindo ao debate.

Publicado por José Sócrates – Não vem ao caso em Sábado, 4 de Novembro de 2017



