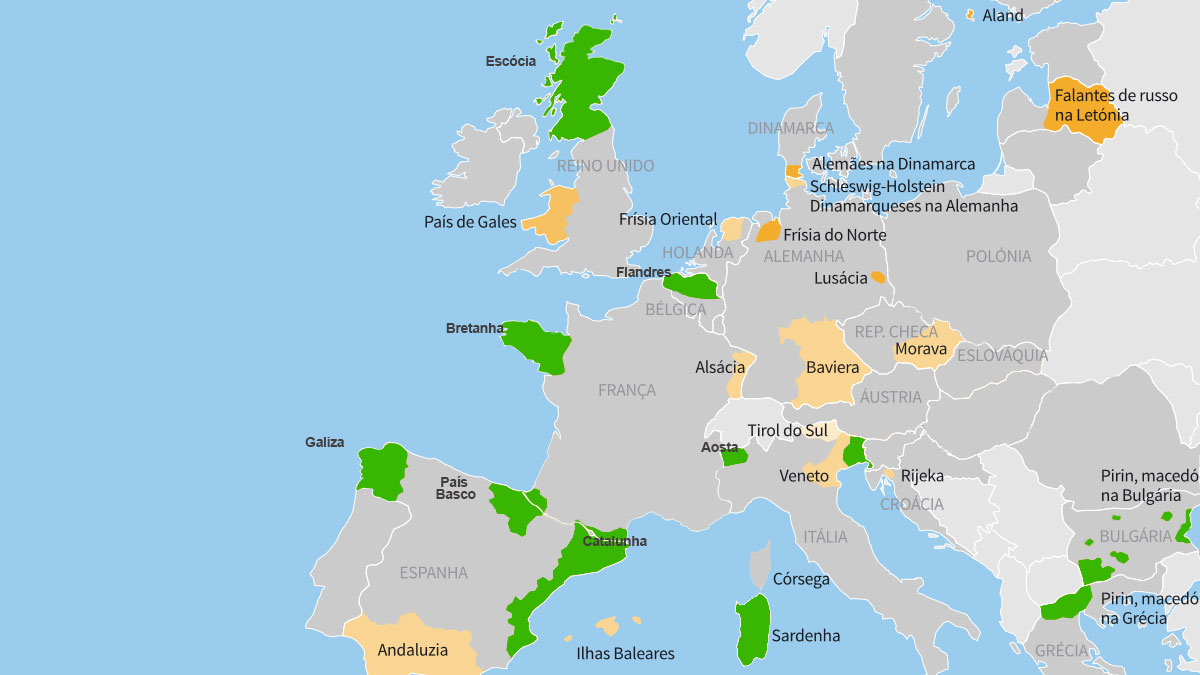Não é nova esta questão. Ou talvez seja, nos moldes em que está posta. Mas é uma questão difícil e controversa. Quando se pôs foi sobretudo na ordem colonial ou da opressão externa. Mas também houve (e há) movimentos que reivindicaram a autodeterminação na ordem interna. E quando foi reivindicada aconteceu quase sempre por via armada. O que é novo, pois, na recente questão catalã é a sua forma e o contexto.
Uma ordem constitucional democrática, votada consistentemente pelos cidadãos, integrada num contexto internacional que se aproxima de uma ordem democrática supranacional (a União Europeia). Uma parte significativa da população de uma região autónoma que quer tornar-se Estado independente por via pacífica e democrática, mas em contraste com a ordem constitucional do País.
O conceito
O conceito remete para a Carta das Nações Unidas (1945) e é aplicável às situações de autodeterminação em contexto de domínio colonial. Mais tarde o conceito alargar-se-ia, juntamente com outro dispositivo normativo, o do respeito pela integridade territorial de Estados. E também sempre esteve associado aos conceitos de povo, de nação e de soberania. E sabemos que, neste caso, a posição a definir deverá estar enquadrada por valores de natureza democrática, reivindicados por ambos os lados.
A primeira grande questão refere-se ao Estado e à determinação do princípio de soberania, indissociável dos conceitos de povo e de nação. E está enquadrada por uma clara distinção entre autodeterminação interna e autodeterminação externa. E admitindo desde logo que, em princípio, a situação actual poderia ter sido evitada se se tivesse consolidado o reforço da autonomia da Catalunha, como decidido em 2006, após negociações conduzidas por Rodríguez Zapatero, ou então avançado para uma via de tipo federal – ambas soluções racionais no âmbito de uma lógica negocial sobre o normativo constitucional, que nunca poderia, neste caso, deixar de enquadrar a questão da autodeterminação.
Não vejo, de resto, outra solução para o caso da Catalunha que não seja a de uma solução federal, que integra uma visão moderada de ambos os lados: porque garante a unidade do Estado espanhol; e porque dota a Catalunha de um autogoverno com capacidade institucional e política para exprimir os desejos de afirmação da personalidade catalã em todas as frentes. E se a isto acrescentássemos a existência de um Senado europeu, representativo de realidades como esta, teríamos a resolução de um problema tão difícil quão perigoso. E uma boa solução do problema evita que uma perigosa caixa de pandora se abra em Espanha e na União, com consequências desastrosas para todos.
A autodeterminação e os outros
Na questão da autodeterminação há sempre os dois lados da moeda. Fixemos a questão no interior de um enquadramento democrático, como é o caso de Espanha. De um lado, uma parte consistente de catalães, do outro, os restantes espanhóis. Partindo da afirmação absoluta de uma ética da convicção, bastaria aos independentistas afirmarem o seu desejo de se constituírem como Estado independente, sem se preocuparem com o outro lado, com as suas consequências e com os procedimentos que definem o regular funcionamento de uma democracia.
O princípio da autodeterminação concede-nos esse direito, diriam, faz-se um referendo e “ya está!” Partindo da ética da responsabilidade, que não é contraditória com a ética da convicção, pôr-se-ia sempre a questão das consequências, neste caso, a relação com todos os outros espanhóis e, em particular, a questão da integridade territorial do Estado espanhol. Ou seja, entram em cena os outros, as suas convicções, os seus interesses, a sua identidade como espanhóis que não impuseram à força os procedimentos constitucionais, antes os fundando num contrato social originário. Ou seja, não se verifica uma situação de opressão externa ou interna, sendo a Espanha uma democracia.
Não estando, pois, a autodeterminação equacionada nos termos de uma lógica de conflito ou de antagonismo, muito menos armado, deverá entrar obrigatoriamente em cena o princípio da composição de interesses, da negociação, com uma condição de base: nenhum dos negociadores pode partir para a negociação com uma posição do “tudo ou nada”.
Acresce que a constituição de 1978 foi aprovada por 87,78% dos votantes e por cerca de 59% do total dos eleitores. Na Catalunha, de resto, a constituição foi aprovada por cerca de 91% dos votantes. Uma maioria esmagadora! Mais concretamente: na Catalunha, a Constituição espanhola foi votada por quase três milhões de pessoas numa região com cerca de 5 milhões e meio de eleitores. A via da composição institucional de interesses torna-se, pois, obrigatória porque é a única politicamente legítima.
O papel de uma constituição
Na verdade, não tendo sido revogada a constituição não parece ser correcto agir politicamente à revelia das normas constitucionais. Porque estas normas ultrapassam o nível de um mero ordenamento jurídico. Trata-se da Lei Fundamental do Estado onde está plasmada a vontade política de um povo constituído por várias nacionalidades e identidades regionais. E, assim sendo, um desejo de secessão em ambiente democrático deverá ter um obrigatório enquadramento constitucional.
De outro modo, quem a promove sai fora das regras democráticas, que é pior e mais perigoso do que cometer simples infracções legais. Não se tratando de uma questão meramente jurídica, ela eleva-se à dimensão constitucional e política, devendo ser tratada como tal.
Julgo saber que em tempos, 2006, foi, de facto, aprovada pelas Cortes (e pelo PSOE) uma reforma mais profunda da autonomia da Catalunha (“Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña”) que viria a ser inviabilizada pelo PP através do envio desta reforma para o Tribunal Constitucional, que a chumbou, em 2010.
Ou seja, o PP lavou as mãos, como Pilatos, de um problema eminentemente político, remetendo-o para a esfera judicial, ainda que de um Tribunal Superior. E este acabaria por resolver juridicamente uma questão que era, e é, política e que poderia ser resolvida, designadamente, através de uma alteração da Constituição. Não foi esse o entendimento do PP e agora é o mesmo PP que tem o complexo problema nas mãos, acabando também por envolver o próprio PSOE (e Ciudadanos).
A questão da soberania
Na verdade, a questão da soberania é central nesta discussão. Porquê? Porque ela está ligada à questão de saber onde reside: se no povo ou na nação. E, portanto, de quem pode declarar a autodeterminação, através de que mecanismos e com que regras. Se a soberania reside na nação, como parece ser o que acontece na generalidade das constituições de matriz liberal, ela deve ser resolvida no interior dos órgãos de soberania, ou seja através dos mecanismos previstos e dos órgãos constitucionalmente definidos.
Neste caso, a constituição é o lugar onde todas as soluções para casos como este devem ser encontradas. Até por uma razão: a alteração da Constituição exige maiorias qualificadas e um processo de ratificação através de referendo, o que funciona como forte estabilizador político da sociedade. Nem matérias tão sensíveis como esta poderão alguma vez deixar de exigir consistentes maiorias reforçadas que garantam a necessária estabilidade do próprio sistema.
Em suma, uma questão política, não judicial
Claro que estamos perante uma questão política e, por isso, a reivindicação de independência por uma parte consistente de catalães não é susceptível de ser tratada como uma simples transgressão à lei, bem resolvida através dos instrumentos previstos na lei penal. Claro que não!
Mas também é verdade que se o movimento que aspira à independência se declarar democrático ele deve respeitar os procedimentos constitucionais previstos, não inventando procedimentos exteriores à constituição para obter os resultados desejados. Sobretudo quando a mesma constituição que define os procedimentos resultou da sua própria vontade, ao ratificá-la por uma maioria tão expressiva.
Na verdade, o parlamento que declarou a independência é uma instituição prevista pelo mesmo texto constitucional que não autoriza o procedimento que este mesmo parlamento promoveu e validou, enquanto assembleia legislativa e deliberativa. Isto sem referir a enorme trapalhada que foi o referendo e sem sequer se pôr a questão da percentagem de votos (no parlamento e no referendo) exigível para deliberações tão sensíveis como esta.
A questão é, de facto, muito delicada, mas se a quisermos enquadrar no interior dos procedimentos democráticos, como parece ser o caso, e pela voz dos próprios independentistas, então a via terá de ser a da negociação, no interior dos órgãos previstos para tal e sob o impulso das forças políticas em presença.
O princípio que aqui parece ser dominante é o da ética da responsabilidade, não só porque só ele pode levar a uma solução negociada e pacífica, mas também, et pour cause, evitar perigosos confrontos num horizonte que se pode vir a insinuar como um horizonte de indesejável violência.