Que possa eternizar-se o estado da madrugada, sempre. Não anseio nem desejo, sinceramente, o regresso repetitivo de outra manhã, geograficamente igual a todas as outras, anteriores
37
Os meus passos voltados ao avesso nesta nuvem encardida e sem verdade nenhuma. Não havia nem como, nada dizia:
Que haveria eu de dizer naquele torpor estúpido?
Onde só os meus gritos se ouviam num corredor onde nada lá estava, as batas cercavam-me num desejo de estudo, e ouvia:
– Coitado!
Um eco perdido no silêncio obtuso e quadrado da sala, deitado estava eu ainda e seria mais que isso, o maqueiro esperava cansado numa contabilidade rarefeita, mais um menos um pensava ele, numa verdade matemática das nossas existências, restam os lugares nos arrumos mórbidos do hospital já farto de tantos morrerem sem vontade, como eu:
Vontade de te amar e não estavas lá, vontade das tuas mãos velhas e rugosas sobre a minha testa e não estavas lá, a memória estava alojada no peito, que a cabeça morrera já, cansada de afazeres displicentes, a tua mão voara, sei lá, vontade dos teus afoitos carinhos a dizerem o meu nome e não estavas.
Os olhos fechados fingiam que a morte me havia já levado, a ouvi-los cochicharem contra os meus vícios, raivas, indisciplina e nada eu lhes dizia, pensavam-me mais morto que a morte dos cisnes no quintal municipal, no jardim abandonado da cidade, lagos e charcos na cama numa memória meio adormecida e encher-me de tantos outros nadas, nem tremiam sequer tal era a verdade que lhes queria mostrar. Estava de facto a morrer.
Num frio eu calado, as janelas abertas do quarto, caserna ou que raio eu fingia que já havia morrido, ouvia como dissertavam, como alegavam os desígnios da razão:
Já não escapa. Ouvia.
Os “plim-plim-plim” das máquinas silenciaram-se após ouvi-los, pensava eu ter mesmo morrido, sem medo, não morri. Fechei os olhos e esqueci a solidão, a vontade, a dor, fingi que não estava vivo. Verdade!
O ranger de macas vadias para a frente e para trás, e saltava por dentro, para que não me ouvissem os meus delatores, submersos os meus passos naquele lugar onde a morte nasce sem o riso do pai, onde se vai desta para melhor na alegria do cangalheiro de fita métrica na mão:
Sinto muito, mas, paciência, mais um.
Um corredor moribundo por onde os ecos se confundem, a cor da vontade escarnecida num delírio de picadas, a pele furada outra vez e eu a fingir que morri. Muito mais vivo que pensavam.
Aos pés da cama o boletim clínico:
Clinicamente morto.
Um rosto negro dilacerava, às voltas, de guilhotina enferrujada, cabelos de diabo num sorriso amarelo:
Filho de quem?
De nada. O destino mora aqui.
Sobre que palanques nos conhecemos. Ou de que palanques falamos. Se sobre a essência de nos termos conhecido ou se sobre a insignificância de ter havido o facto de proporcionarmos os fundamentos desses palanques, ou a álgebra dos sentimentos se engolem nos silêncios calvos de ternas noitadas perpetuando o sentimento alugado diante tais palanques, outrora enriquecedores para momentos eternizados num horizonte, concluindo-se depois, se forte ou essencial, ou apenas resignação dos interesses côncavos das maresias sedativas dos instantes excomungados na essência devoluta dos beijos amargos, tresmalhando-se depois nos lábios, a perspectiva cega dos corações adormecidos numa metáfora guardada no silencioso bunker do coração retorquido e verde.
Sobre que palanques varejamos. O sinuoso trivial de passos comuns, caminhando rios e rios de vozes entregando-se ao espelho da rua, no observar ligeiro de circunstancias que se evaporam sacando o sol do olhar mal acordado, ingerindo vazios esquecidos e palpites ignorados nos anfíbios e lentos dedos que se tocam num cruzar apenas de sentimentos, desconhecidos odores de perfumes velhos ou envelhecido aroma das peles expostas à ilusão da rua, iluminando-se de lua numa noite estrelada com campos alheios vendendo sonhos aos soluços medrosos da vida pretendida, como tenda partida nesta feira imaginária dos livros ressequidos no albergue adocicado de muitos anos mais, desejados como o trampolim sedento do futuro repartido enquanto sempre e ainda mais, sabemos que nunca terminaremos sem concluir acima de tudo, aquilo que mais que tudo, pretendíamos e queremos permanentemente. Destes palanques avulsos dos teus soluços.
Sobre que palanques a ribeira existe. Ou ciclo vulgar do seu percurso rompendo da sua frente as muralhas de gente que se reúne insignificante num frenesim sem audácia, breve urticária estendida no areal de um dia, talvez à margem colocado contando os passos solenes que se somam diante areias arrastadas dos longes inventados para ter que dizer algo sobre o que quer que seja, ou nada sendo, repercuta na frente os palanques ausentes da essência cremada espalhando contra o vento os restos da alma envenenada com os beijos perdidos no decurso da noite sem te sentir comigo inventando cânticos de arrufos sedentos e breves sentimentos que se comprem com paz entre as mãos verdadeiras apenas às vezes, ou se tiveres de ser, ou que possam querer sê-lo, ou que tentem não esquece-lo e se tudo de facto assim for, colocamos o alpendre na estatua perdida, os olhares entristecidos destes amantes do nunca na margem secante das mãos amadas todos os instantes que se queira, de facto sentir do insensível alem diante tudo e nada, num repente vulgar e vandalizado por nós sem que nunca de facto nos beijássemos, apenas por sentirmos que se assim o fizéssemos, ficaria na marca registada, nos relâmpagos do quarto onde dormíramos talvez, o futuro de tanto tempo entre nós vivido como senhores reais desta vida entretida com palanques sempre, onde nunca estivéramos.
A cor do mundo sem essência que com primazia guardamos num leito perdido entre quatro paredes de tudo. Quatro cantos espalhados pelas ruas da noite neste mundo sonhado num escuro afável sem a inundação do toque dessa mão que perco, a cada passo que invento. Sobre que palanques te rendes. Sobre que palavras te descobres inerte imaginando-me espólio deste Verão esquecido num destino perdido nas antigas férias descobertas agora, entre estes palanques marcados com a sola dos teus beijos inventados com a marca que sempre ficara na memória das aves que um sorriso bastará, para que desta vez nunca mais te encontre, mesmo que o mar invente ou o destruam as barreiras perdidas nesta ausência real de tantos bares fechados à hora que quiseres beber um tempo de verdade nos lábios brilhantes que sempre me quiseste mostrar, iluminando-os com o candeeiro de velas velhas que hoje perdido, se vela na mala da alma que dorme entre jazigos ausentes neste temporal azedo das saudades existentes apenas agora e sempre, mesmo que o cemitério da minha verdade e vontade se assuma na verdade indiferente ao que queira, sem que consiga sinceramente deixar-te sobre a pele a marca cruzada da vida encruzilhada destes momentos esquecidos num ontem sempre e sempre impresente, sentimento de gente na mala de mares que se afundam a horizonte. Entre palanques talvez.
Sobre que palanques existes? Certamente nem palanques existem. Sei que são. Pensar-te nestas eternas brumas, internas iras. Fumos de todos os meus infinitos pensamentos, assumo-me nesta heresia flutuante de todos os momentos porque te dirijo a flatulenta e fresca caminhada, nestas estradas do Norte. São os caminhos que te devolvem a mim. Proporcionam o meu regresso. Levam-me daqui.
Em que palanques inventei o sonho? Nenhum será fruto dessa sensação. As limalhas da noite irrompiam, os silêncios construíam mares e janelas abertas, jangadas flutuando as correntes claras das águas que ao fundo, sorriam beijos guardados todas as manhãs, todos os momentos, sorvendo-me de soluços e saídas de mim, ate sentir-te mar de sal. Doce falésia colorindo distante um sono irreal, um sono sazonal, um sonho cordial, navegante instante que vive dos espelhos da água, que aufere na água os descobrimentos de qualquer alma, qualquer distante, qualquer olhar acima de mim me enche como o mar enche o destino, infinito e eterno, longínquo e inacessível, ainda que os palanques sorriam contigo as jangadas trémulas das noites arrebatadas, envolvidas e devolvidas a todas as consequências perdidas, a todas as vantagens perdidas. Palanques, seriam refrescar a alma num mar que dormisse os ombros da vida.
Devolvo-me com a calma do instante. Sem me retrair, excluo-me das circunstâncias, dos Verões perdidos, dos tempos verdadeiros que a azáfama do insucesso fez, construindo-me ateu das coisas invisíveis, dos instantes vagos, das retóricas dos mundos afanados e relíquias dos sonhos entre ti, como o menino das areias me cubro contigo, as salinas do longe.
Seria num Valbom qualquer. Estarei sempre como estrada que me ruma. Rio que me arruma e ladeia a distância. Marca que me move e desloca. Vontade que obriga o devaneio. Suplico comigo. Sou-me. A essência não foi o que parece, é o que não padece. O alcatrão azedou para sempre. Marcou o início de todas as novas frentes. O périplo disfarçado de outras vontades. Quereres. Esta marina no começo da noite, onde sentei instantes da minha incursão, onde coloquei ausências da vida que refinava o passado, onde vi contigo saltarem as coisas esquisitas nessa água assanhada, que não me lembro quem, onde, quando nem porquê. Em que palanques construí a minha vida? Por que palanques te desejei como se as nuvens possuindo-te, reconstruíssem as euforias esquecidas e os frenéticos silêncios numa cidade verde, como pródigo e fiel forasteiro das tuas mãos, devolvo a tua noite tranquila o que jamais se recupera, sem os beijos nunca dados, as águas ressuscitarem e as manhãs de novo acordarem frescas como nós, castrados em margens diferentes onde nem sequer a distância marque o impossível destino que seguirá, flutuando pela tua cidade as águas nómadas do qualquer palanque estacionado no céu. Porque os palanques do céu dormem.
Quase madrugada. O suculento frio entra pelo escuro e encantador dilúvio de estrelas, que preenchem por completo o constelado céu, que se murmura cintilante, quase que a brincar sozinho entre as mãos carentes da solidão da lua, reflectindo-se sem um sorriso sequer sobre o mar calado, que gesticula brumas e ondas espumosas, arranhando-se contra as rochas absolutamente inertes e escondidas como oásis, que irão entretanto iluminar-se num dia, mesmo que esse dia seja eternamente ter que esperar pela manhã ensolarada. Sentem-se pedaços de sonho imperturbáveis na orla dos cáusticos quartos.
Ouvem-se deslizar como caravanas românticas sobre o empedrado branco e preto dos passeios, silhuetas indespertáveis de corações anfíbios, num quase perdido desejo nesta breve terra e água, que se aloja e navega, vagabundeando esta constelação estática sobre o infinito, que se distância a cada passo, como um delírio sempre inacessível, quando se acorda, quando nos apercebemos que definitivamente somos sonho eterno.
Às vozes que vinham do escuro pareciam invenção da minha capacidade de ouvir. Abanavam o volume que existia entre as árvores, num repleto campo quase obscuro pela sombra e pelo silêncio, rasgados pelos esguichos do regador clandestino estendido pelo verde escondido das relvas imensas, e pouco perceptíveis pela cobertura imensa do escuro dessa noite linda e fria, distante e intensificando-se apaixonada, apaixonante, diante reflexos metafísicos da tua mão, indomadamente presente e entrelaçada nos meus pensamentos alquimistas, vagabundeando todos os encantos perdidos do coração, ritmadamente certo, ou que possa parecer pelo menos estar, quando em todos os imensos e belos romances estendidos pelas orlas da fantasia, inventarem prazer com os teus braços estendidos num acto divino de afecto, agarrando-me pelo corpo.
Que possa eternizar-se o estado da madrugada, sempre. Não anseio nem desejo, sinceramente, o regresso repetitivo de outra manhã, geograficamente igual a todas as outras, anteriores. A profundidade de todos os mares colados aqui, como que com decência, agarrados as paredes da madrugada, com gestos cintilantes espalhando faíscas entre os beijos, ou entre apelos de mergulhos doces em águas que se movam nesta cama adormecida, entrando imaginariamente uma alma quase tua, impávida e serenamente esperando o arrulhar cíclico das ondas deste prol flagrante de circunstancias impossíveis. Se a maresia se tornasse confidente, aproximava sem demagogia os ímpetos austeros criados unicamente pelo impossibilitado e repousante e merecido, de realidades não conseguidas.
Certo escuro. Repentino. Intencionalmente me envolvo nestas penumbras ocasionais. Neste marasmo nocturno de peles secas. Neste esconderijo vulgar. Recanto meu, entre diversas ruas movimentadas. Num local sem bares nem fantasias. Sem janelas, o vento cúmplice anuncia-se, reclama o encerramento da sua antiga via. Do seu quarto de passagem pelos cantos do mundo enfurecido pela sua agora ausência. Encerrei-lhe a vontade. Como que se os gritos me comprassem numa tentativa só, paz completa. Não encontro neste mar o teu apelo.
A cor do nefasto nas bermas ocupa as madrugadas. Restos de sonho como ribeiras escondidas. Como pétalas aventadas. Como ira dos destinos nas bermas:
– De que ecos a fantasia?
Com o fim as luzes abrem, são os ecos do calor, rios andam como velas pela encosta do silêncio. E o nefasto entre as brumas como dores de matar, dói o som dói a alma resta a noite por viver, ainda ontem éramos juntos naquele bar a naufragar, e agora nem sorrisos:
– Porque a morte te levou?
Cores de mar abeiçam copos, bebo noites no vulgar. Sou assim um ar de nada como a águia do torpor sobre as casas moribundas, este jeito de encantar, abrir então as mãos neste silêncio devagar, ver voar como gelos os degelos do desgosto que a morte faz sentir, sem que ouças ou que vejas nada como sintas, não consigo ver na cor dos olhos quando perdido me debruço numas grades de ferro cor de ponte, e voar como um sublime que se abraça a Deus, no espaço que se rege por dogmas de inventar e ser ave naquele rápido instante em que nada está perdido, e morrer como morrem os pássaros, espetados na areia de patas para o ar, sem riso, sem rio, sem vida:
– Se disserem que morri, duvidas?
Não caias aqui se morreres, neste lado furtivo, onde a manhã cheira ao bafio dos lábios magros da fome, não, aqui não, se conselhos aceitas, morre na casa ao lado, onde morem déspotas, foragidos, moribundos a gesticular submersos na geada do teu olhar gélido, sim, queria que ouvisses, que me ouvisses decalcar os ossos, a arruinar o degelo dos dedos que me tocam e não chegam a mim, queria inventar-te se conseguisse nesta parede de onde as cores já partiram, numa cal de risos a brindarem contra mim, numa calúnia de remorsos a infligirem-te, mas não caias assim, porque tão simplesmente te perdeste de ti, dos que nunca nada te disseram como eram as noites em que os copos te enchiam a barriga na miséria anoitecida ali, num marasmo inócuo de copos severamente cheios de falência, como sou, como poderás, sei ser, a viajar delírios de esconder a saudade por palma nenhuma na mão de ninguém e eu, como déspota que sou, apenas vislumbro o caminho que me destina cada vez mais além, do lugar do morto que morre mais tarde que todos, eu nele, na parte de trás, nos fundos, na sapiência saliente do destino, não me faças sentir mais este cheiro que me adormece sem rumo.
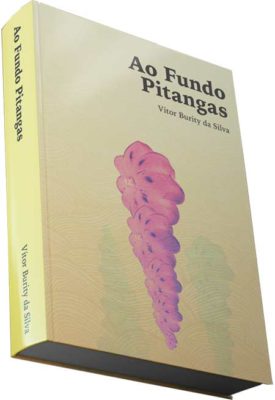 Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas
Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas



