E numa rua qualquer, sei lá, morri, numa esquina à caminho da escola, a manhã rompia num vagar tão lento que irritava e não suportava e tombei, sobre um desenho fatídico no passeio
36
Não me calo, e disto, o risco discreto se um riso na amálgama vazia desta brancura saltita na sala do encanto, a morte anuncia-se, ao contrario do que faz, oculta na minha pele numa rua de nadas, conquanto, tu, gritas esmerados soluços sob um silêncio lúdico, e quando pequeno ainda, a sala sorvia o seu sargaço, o meu retracto mal pendurado, o meu quarto desalojado, endémico, se preenchia de losangos por entre as paredes frente a frente, apertadas, num peludo branco era a parede ali, recebendo dos meus gritos um eco revoltado, numa cor mal pintada de fantasias disfarçadas, diria, se os lobos dormissem segundos que fossem.
– Silencia-te… de repente, sacode tipo maestro, a batuta do sangue, elevá-la noite a dentro e sentiremos músicas de coração. Ah… contigo a arte é parte da lua. Aconchego de ti. Concreto por ti.
– A cidade que nos fala, descobre-a, faz nela a distância ofuscar-se, num repente breve, dogmatiza a nostalgia, ingerindo-nos de cadafalsos breves, breves sentenças dignificarem a maresia dos nossos instantes, a rara conclusão das nossas noites neste Capitólio que não há, um tu sereno num mar de vozes confundindo beijos tacteando-nos, um douro que fosse, subindo-nos esta vila de ti num coração de beijos funestamente doces como cor de limão. Inventei-te, sabias?
– Acredito, sim, acredito e creio nisso, nas palavras do futuro os teus dedos descrevem, como existe o nosso nós neste veraneante nada…. Quero-te inventiva…
– Sou activa…
– Quero brisa…
– Aliso-me sonhos entre ti, sorvendo-nos casas por estes entre tantos azulados, quase invulgares nadas, sigamos mesmo assim, apostas?
– Mergulha-me em ti então.
– Como?
– Seca-me dentro da tua viagem.
– Não sei…
– Saca-me para ti.
– Sei…Onde estiveste então?
– Beijos contra ti, numa tortura linda…
– Amanheces aqui, sabias? Na orla vã dos meus presságios, no rufo abrunheiro das melodias, encontro-te suplicando-me devaneios de vagas solenes andando por dentro das camas desta água, a subir devagar a cidade… Em espinho havia dito, sei que não sentiste, era tarde, mas descobriras a maresia do café que secara entretanto nas calças amarelas da melodia…
– Ouvi… pensas sempre que nunca nada sinto, ou ouço, mas não penses… recordo ainda agora a exactidão do dia. Ai sim? Então repete tudo, tal e qual. Longe de nós, não muito longe, o mar subia lentamente as areias da manhã, com o toque que marcava a melodia que trouxera eu antes e te entregara, o ritmo continuava e tudo se ia transformando em certezas, criando na alma a luz do sorriso que engolira o desejo, de cabanas construídas numa areia verde, sem relvas nem ervas, com o ladrar que não sei de onde vinha, apenas o ouvia, do caos dali, o mar sobrepunha-se e eu dissecava lentamente um corpo que quase molhado, mergulhado, comungava restos que entregara ao dístico da vida deixada na cidade a cem metros, dum rés-do-chão por ali, o automóvel preto deixado à porta até sentir na pele como se é belo quando se sente o mar… esse distante dia na marca dura da pele ainda existe, e não seca. Sei, como vês sei. Nosso esse mar. Todos os pedacinhos dele, guardarei. Todas as gotas irei levar comigo, irão viajar comigo os meus sonhos, vou levá-los e poder um dia entregar-tos, num mar inteiro, redondinho, delicadamente cuidado, para que o sintas em mim como parte de mim contigo, nesse lugar onde nunca estive.
– Quero o sal dele. O ruído dele. O barulho matinal dos Verões. A calma quente. O azul imaginado. Romântica? – Às vezes.
– Oh, como explicas isso?
– Às vezes sim. Umas vezes devo sê-lo, outras nem por isso, independentemente do que na verdade sou, uma pessoa assim, mas que achas? É errado?
– O que é ser errado para ti?
– Tens outra interpretação? Romântica, às vezes… uma questão de língua, não achas? Desde o início estamos no mesmo idioma. Acredito. Os devaneios, é que às vezes despistam a lucidez da língua. Falemos então várias línguas, misturadas, somos líricos, que importa. São certezas e azedumes dos dias. São certezas da vida, que nos forjam a verdade.
– Entendo. Lidas com as coisas consoante estiveres disposta.
– Nem sempre.
– E hoje?
– Não sei. Sei.
– Que sabes?
– Que falar não me parece ser coisa que te apeteça.
– Fazes-me rir, não como gozo, mas achei piada.
– Também eu. Assim não nos entendemos…
– Bem, que queres dizer com isso?
– Nem tu falas nem eu… assim…
– Desconversas com a história do apetece ou não.
– Sou assim, falo pouco e quando falo, pouco digo.
– Escondes alguma coisa?
– Não. Talvez te deva dizer uma ou duas coisas.
– Podes começar.
– Pronto para ouvir e aceitar?
– Completamente! Que irás depois usar contra mim?
– Sobre quê?
– Sobre o que acho que devo contar-te.
– Oh Lúcia, são coisas que só a ti dizem respeito, logicamente devo aceitar ou não, se forem coisas que me prejudiquem.
– Não te prejudicam, começamos sem horizontes.
– Tens razão. Às vezes esqueço-me.
– É disso que não gosto.
– De que?
– Não é bem não gostar, mais recear.
– Desembucha Lúcia!
– Não é fácil. Nem simples. Nem sei como começar. Até porque nem acredito que vás entender. Temo isso sabes?
– Vou ficar preparado. Vou aceitar. Nem que isso implique diferentes maneiras de nos relacionarmos.
– Começas com essas coisas, inibes-me, cortas-me a vontade de dizer o que quer que seja…
– Não tarda, temos uma peça de teatro… romântico… dramático…
– Não seremos mais que uma peça de qualquer coisa mesmo… não é vaga nem casual, mas não é concreta nem será nunca…
– Se for inconcreta, mas ao menos andar…
– Empurramos…
– Brincalhona…
– Temos de dizer alguma coisa, nem que sejam parvoíces.
– Ouço tudo que queiras, nem que seja para desanuviares.
– De facto preciso mesmo. Às vezes sou assim também, meia parva.
– Vou dizer que não me importo nada que o sejas, problema teu não achas?
– Acho.
– Também eu. Sou louco. Não vivo parado. Preciso do movimento das inconstâncias.
– Que quer isso dizer?
– Gosto de movimento, acção. A minha vida é uma história que quero dar continuidade.
– Sobre quê?
– Poderiam ser até questões sentimentais.
– Namoradas?
– Também.
– Quantas?
– Nenhumas.
– Então?
– Viagens apenas, este telúrico silêncio da nossa vida.
– Então?
– Nada.
A lezíria rompia por entre canaviais um silêncio surdo. Os passos, ainda submersos, rangiam em ecos de cores que iam até ao fundo da rua, talvez mais depressa que a consciência, ou que o pensamento, e sob as sombras meio frias o meu rosto distendido numa vastidão de rumores e outras vozes, nada vendo, para além da lezíria que rompia por entre os canaviais.
Rangem enfim como resquícios. Sobram nuvens e dentro deles um temporal de vícios descoloridos como rosas sem rumo, um roseiral de sonhos na masmorra mais dúbia do tempo.
Ao longe o riso do vento sobre as giestas, o decorado silêncio dos palanques, a minha pele, a minha insónia, ao longe, não há como queira eu um destino secundado nesta perdida ausência dos meus pecúlios seguindo, como eu, este rumo sem cor sob as árvores esquecidas do meu quarto. Decorado de brancos lençóis num sonho de tédios, o requinte, nem ali, nem eu sei lá como, mas sempre uma dor desprovida, desentendida, num amargo de boca como refém dos meus próprios silêncios, que não me amarguram, não me aniquilam, mas lá ou ali, na sopra cósmica de ventos e de rumos sem caminho, na sombra avulsa dos silêncios, repito que sou, sublinho, desde muito novo, lembro-me de quando tinha catorze anos me diziam:
– Pensas que vieste do céu?
Coisas, nem coisa nenhuma, algum artefacto de barro na cama onde murmurava os meus dotes de ninguém calado, na almofada de cobertores dobrados sob a cabeça numa dor de raivas, o toque não existia, a solidão de remédios esquecidos no ambulatório desvairo dos meus destinos, para ninguém mais à cabeceira num gesto fraterno, um aconchego, um afoito toque na testa.
Dorme meu amor.
E numa rua qualquer, sei lá, morri, numa esquina à caminho da escola, a manhã rompia num vagar tão lento que irritava e não suportava e tombei, sobre um desenho fatídico no passeio, no meio da rua, onde ninguém reparava sequer, onde sou eu e a minha ambicionada morte cantávamos um delírio de funestas vontades e nesse amanhecer, a caminho da escola, o último grito sem vontade nenhuma de nada nem de mim, ali tombei como uma pedra atirada com raiva, a raiva da ausência, do pecúlio, sem vontade de nada, na cama de um hospital inventado na maresia mais lúgubre dos meus próprios desígnios, no sal descolorido da minha infância, do quintal proibido, do meu grito impedido.
Rodearam-me batas brancas para morrer sem razão. O olhar indefinido dos outros. Camas à minha volta num olá desprovido e frio. Não queria mesmo morrer, pensava, num torpor desguarnecido, mas morria à mesma velocidade que os que morrem sem pão nem pai.
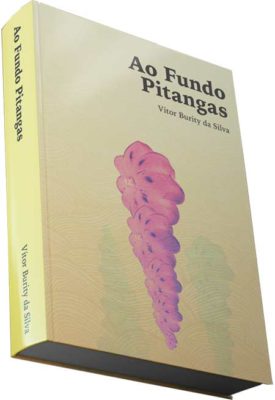 Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas
Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos novo capítulo do livro Ao Fundo Pitangas



