viemos para lutar, honrar a pátria, nada de turismo, saímos do porto de luanda para a picada, sem parar num bar beber saudades e esquecer saudades, directos para a picada ali próximo, pensava, combater no princípio o vazio
II
Ainda assim o azedume esquelético dos passos tatuados, estampados para reviverem mais tarde, o crucifixo pendurado ao peito badala a cada salto, o jeep barulhento caminha sobre as giestas escondidas deste paraíso de medos, água benta, a bênção do capelão,
– benza-me, meritíssimo!
a minha mãe velha, sozinha, tive uma mesma largada entre tantos, num cais qualquer de lisboa rumo ao longe,
– até breve querida!
a voz do soldado de verde, cabelo aparado, a boina inclinada para a direita da cabeça, sem brilhantes nos ombros.
Do longe infindável, o mar imenso onde o horizonte é branco e que vazio o olhar, onde saudades já só lágrimas encharcam o rosto, a caserna do navio repleta de melancolias, no plural as almas nem falam, uns silêncios imundos neste fim do mundo de águas salgadas ladeiam este monstro que navega sobre ondas, cruza ventos, ultrapassa tempestades.
O mar adormece, anoitece entre as nuvens, o olhar perpendicular colado às saudades, o choro da mãe na cabeça ainda, onde que raivas me inspirava a dor,
– até um dia mãe!
este eco permanente a vadiar-me por dentro, nem sonhos onde nem sono, talvez seco um gole envenenado de rhum, trepidar a cabeça encostado ao taipal do navio enquanto surgia um destino, talvez, se um naufrágio, se uma raiva, salazar sentado creio, as criadas de servir, uma em cada lado da mesa,
– senhor doutor, posso servir o almoço?
nem fome nós, acoplados como tambores por entre os ferros velhos, cansados, esgotados, de um navio sobre as ondas.
Os berjenjos coitados, de alguma mirandela fria, fui contando, eram imensos, santos, silva, costa, miranda, apenas alguns de mirandela lendo o jornal de caserna escrito com penas inventadas, cartas já pensadas antes da viagem, de lisboa berjenjos, alcântara, alfama, bairro alto de prostitutas nas ruas, o vento do tejo, o miradouro de santa luzia,
– senta-te soldado!
o ruído oco no porão dos taipais entregues ao relento, o soldado surdo bastava que conseguisse ouvir o zunir invisível de moscas assustadas, na água golfinhos de olhos secos, acenando pena por nós, acompanham-nos neste deserto onde só água por todos os lados, o horizonte dormita, um coxo outro maluco, dizem, rumo ao longe. Sobre as águas da vida o silêncio dói, na aldeia a matança do porco, nossa tradição
– quando poderei voltar a participar?
um soldado berjenjo de uma aldeia perto de mirandela, a sua voz, não a sua voz falada, não com palavras mas com pensamentos perdidos no olhar sente-se, o molhado imenso cobre a farda verde, se escorrida por lágrimas, o sol espreitava tímido de uma janela escondida por entre as nuvens que caminha talvez para leste, ameaçando chuva
– quando poderei voltar a participar?
Costa, Santos, Silva, etc., nenhum Guerra, todos para a guerra, para esse longe na cabeça perdida, que destino sem onde nunca, eu
– ai Deolinda!
no convés tudo mirava, oficial miliciano médico, tremia,
– ai doutor!
a febre pairava e suores, tremiam sobre a chapa velha do navio velho um berjenjo,
– ai doutor, o meu corpo!
resoquina e mais tarde a febre baixa, talvez nem sabe nada disso, nunca ouvira tal nome, estranho nome, diz-se gripe, resoquina uma pastilha amarelada com um sabor medonho, do tamanho da saudade, do medo, a distância, outros tatuavam no braço
(amo-te mãe)
e um coração junto ao coração, uma seta a atravessá-lo, como se assim se conseguisse diminuir a dor, onde sangue jorra, com agulhas de costura uns aos outros, cabeça rapada,
(amo-te mãe)
– quando voltar à metrópole caso-me!
o nariz do Costa vermelho, os outros tomates apertados dentro da breguilha daquela farda verde e apertada.
Dom Afonso Henriques atracado em sines definha, morre aos poucos por dentro das ferrugens famintas, abandonado e de tantas viagens carregado até às costuras, ao longe a falésia da cidade, diziam a capital,
– luanda à vista!
medo daquilo ou coisa nenhuma, medo de luanda nunca ouvira falar de luanda, na cabeça a raiva soçobrava, sabia, nem do mato tenho a certeza,
– há leões por aqui, ouvi dizer que sim!
nem em luanda nem em lado nenhum, coisa nenhuma, entretanto instruções,
– pronto um, pronto dois, pronto três, pronto…
o coronel com cara de mau, zangado sei lá, entregavam-nos armas G3 para logo de seguida entrarmos num jeep qualquer ali para nos acolher, pensei, mas para onde ou quê?
– isto é que é luanda?
viemos para lutar, honrar a pátria, nada de turismo, saímos do porto de luanda para a picada, sem parar num bar beber saudades e esquecer saudades, directos para a picada ali próximo, pensava, combater no princípio o vazio, nem leões apenas cães ladravam correndo atrás do jeep barulhento, sentia-se ainda o cheiro do mar e após um chuvisco a terra gritava um cheiro a terra, inalamos sentados na parte de trás do jeep o furriel à frente com ordens recebidas de lisboa,
– siga!
partilham-se cheiros e, entretanto, pedras, entram-nos pelas narinas quem de cheiros como aqueles nada sabia, inertes, o rosto negro de uma menina com os seios pendurados no peito,
– tem paciência comigo Deolinda!
acenava-nos com os dois braços no ar à entrada daquela picada, a bússola
– seguimos para norte.
a seta apontava para norte, apenas o jeep iluminava o caminho,
– qual guerra qual quê, isto é como limpar a cú a meninos!
o furriel sentado do lado direito do 1º cabo condutor,
– aqui só pretos comandante!
os que comentam sobre aquela expedição que saiu de lisboa,
– são tão parecidos connosco!
continua, a tímida, tremida, medo ainda que memória de elefante,
– cala-te pá!
em mirandela nem luz eléctrica, muito menos televisão,
– você não veio para fazer perguntas!
para o que vim então? misturo-me na viagem tão longa, perder a noção do tempo, a minha mulher em casa sozinha, nem notícias dela, falava sozinho obrigando-a a escutar-me, a luz de um obus a despenhar-se quase sobre o jeep, esperava-nos a madrugada, escutava a voz de Deolinda,
– isto mete medo doutor!
a minha filha nascera entretanto e eu nesta vida escura da mata, Dom Afonso Henriques e entretanto gritos,
– já és pai meu amor!
ouvia isso quatro cinco seis ou mais vezes, naquele som triplicado entre tantas que partiam e se metade voltaria.
– e que nome lhe darei?
Santa Paola, o apelido da mãe e o meu,
– ai que extenso fica amor!
caramba, ouvi falar da ilha, onde dizem nasceu a cidade, que mania dar-mos tantos nomes aos nossos filhos, talvez porque juntamos o seu primeiro às nossas memórias, mágoas, de seguida se tens mãe, se tens pai, embora não fosse no tempo dos reis, havia quem fosse desse tempo, nós mesmos nem sabemos, submetidos ao que já havia sido ultrapassado da nossa história, salarizar o sentido proibido da nossa vontade, nós neste sul verde e vertido por entre matas verdes e secas onde cafés e eucaliptos que saudades amor, ver a minha menina e beijá-la fá-lo por mim até o dia de desembarque num cais qualquer de lisboa, este sul é escuro encoberto pela floresta imensa, nem consigo ver o céu acima da cabeça, o escuro do mato e o calor saliva pelos poros ainda noite, o soldado benze-se a cada passo, cospe a saliva verde do capim, a cada buraco, trincheira, perdido,
– Deus não dorme doutor!
a cada quilómetro a vida deixada na metrópole, na terra não esquecida, não recordada, apenas imaginada alguns anos depois, alojada apenas um corpo safira de capins com medo das balas desconhecidas, um corpo, outro, mais, depois tantos! um dia esta memória de elefante, um regresso numa viagem ao contrário da última viagem, atracar num cais qualquer de lisboa, olhar à volta e milhares por ali, encontrar maria, jacinta, ambrósia, sidónia, gertrudes, outros doutora não sei quê, médica não sei do São José quem sabe, a vida de mulheres portuguesas contra a guerra colonial, umas famintas pelo tal abraço, aquele que havia sido prometido na partida, o santos, o silva, tantos e outros olham à sua volta e nada, que solidão que dói, a da chegada a luanda, a do regresso a lisboa,
– não há ninguém a esperar-me!
talvez castigo por ter morto um elefante na mata, pensava sem palavra sequer,
– se pudesse afogava-te, untava-te de ódio e paciência, queria a tua paciência o corpo inteiro, dor.
uma pensão de prostitutas no cais do Sodré, beber até vomitar todas as ânsias vividas, saudades de tudo e nada, pena de mim,
– em quantas negras tocaste?
– tira-me o camuflado, bolas!
(se me perguntares quantos foram não sei)
um escuro profundo entre os relâmpagos, explosões e nem um ai, para o desconhecido que era tudo aquilo, assassinei o abstracto, com rajadas disparadas onde silêncios viviam, onde o que se mexia passaria a ser alvo a abater e nada abatia, fértil sensação de que haveria sempre alguém pelas trincheiras naturais, algo no escuro, o deveria ter que limpar, o galho seco, os capins estendidos camuflavam os rostos, se o sebo cansado, os pássaros esvoaçam ao cair da tarde, um pôr do sol distante, onde pessoas?, nem goivos nem tambores, apenas nervos e medo no meio corvos,
– quem não deve não teme!
o camarada ao lado e na mesma, medo, não eu, nós, cada um amparando a sorte do outro,
– segue!
de quem já nem sei, o pico das pedras rasga-nos os poros escondidos no camuflado, o corpo sem falésias sequer, de vez em quando uns tiritos para nos assustarem, o calendário esfrangalhado, qual ave estendida de pernas para o ar a definhar a dor, o bico aberto ao ar nem respira, definha, depenadas as asas evaporam-se ao ar livre no cimo da terra cansada onde jeeps e tanto percorrem devagar, cavam grutas disfarçadas e nem silêncio, o ruído dos motores invade noites e tempos e esse som na cabeça com os dias riscados a vermelho desde que aqui cheguei e nem isso, agora e apenas anos sem dias nem horas, riscava no braço o meu aniversário encostado ao soldado a meu lado com as tripas de fora nesta tenda hospital, sem luvas, batina, o capelão benze-o, sobre o seu corpo a bandeira da pátria,
(Serás eterno a partir de agora!)
mastigado como folhas secas sobre a cabeça,
– o doutor vai ter que entender!
continuava,
– não nasci para isto!
e eu calado,
– onde o meu futuro?
perdido pensei, sem batina nem luvas restam dedadas pela enfermaria de tendas de campo criadas para o efeito e cirurgias, tripas de fora e cabeças estioladas o cérebro fora do crânio, ossos aguçados rasgam a pele, rastilhos juntos ao calcanhar destroçado e gritos, gemidos às vezes enervantes, sei lá se por eles ou com eles,
– queixa-te ao coronel porra!
a minha filha nem sei, eu nada sei aqui ou qualquer outro lugar, mama ao colo da mãe, aqui viagens nocturnas pelo tempo cercado de mato, o tempo para a nosso lado, não ainda, mato o tempo para o nosso lado, não ainda,
(um dia escreverei sobre tudo isto)
não eu,
(um dia serei livre)
ouvia o cabo condutor do jeep que nos trouxe a este escuro cada vez mais escuro sem fim onde uma mina nos atira a todos pelos ares tombando sem para quedas nem relva, sem colchão nem sono, que insónias adormecem sobre as pedras aguçadas olhando-nos à espera de quem sobre elas tombasse, aguçadas e com raiva e até as pedras com raiva,
– ai!
coisa nenhuma,
– ai!
(ouvia)
– onde estamos?
atordoados, mas pelo menos vivos, alguém, não decifrei quem, fumos e escuro,
– ai!
a voz de quem?, o cabo condutor e os outros?, ninguém morrerá aqui,
(pensei)
levanto-me dando ordens,
(aprendi na escola de oficiais milicianos)
– em frente… marche!
viemos numa missão de paz para esta comissão de lágrimas?
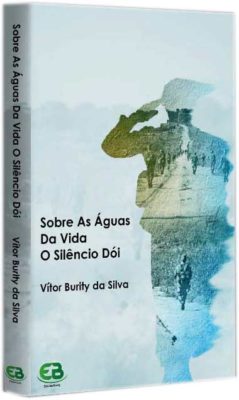 Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos o primeiro capítulo do livro Sobre As Águas Da Vida O Silêncio Dói
Como aperitivo à deliciosa prosa de Vítor Burity da Silva, apresentamos o primeiro capítulo do livro Sobre As Águas Da Vida O Silêncio Dói

Receba a nossa newsletter
Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.



